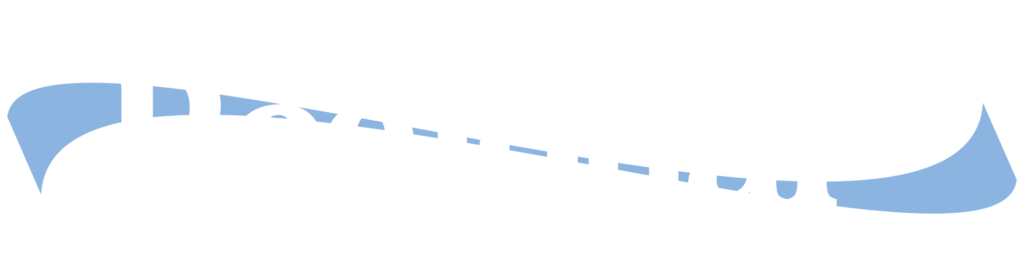Maria de Luna Botelho, minha avó, filha de Maria do Carmo, uma negra alforriada; e do outro lado, a bisavó América Bueno, filha de Júlio Bueno, também um negro alforriado. Como os meus caros leitores podem constatar, eu tenho os pés na cozinha!
Quero lembrar aos jovens, que a Alforria foi um “Instrumento Legal” que permitia a libertação do escravo. Em “Quincas Borba” e em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, Machado de Assis registra o Rio de Janeiro: porto internacional, lugar de comércio de larga escala e sede da monarquia portuguesa com toda a sua burocracia; uma cidade atrasadíssima em matéria social por manter uma prática escravagista. Escravos buscavam sua liberdade de várias maneiras; a mais radical era a fuga, complementada com a organização de quilombos. Na segunda metade do século 19, argumentava-se que os escravizados não estavam preparados para a “lei do Ventre Livre” nem para a alforria dos sexagenários e muito menos para a Abolição. Até 1860, todas as alforrias eram revogáveis. Se é que dá para imaginar tal horror: um sujeito comprava sua liberdade, com enorme custo, ou era contemplado pela sorte de ser alforriado por uma senhora bondosa. Mas, no dia seguinte sua condição podia ser revertida por apenas um desejo do antigo dono. Era nas cidades que os escravos tinham maiores chances de obter alforria, especialmente os que trabalhavam nas casas – os escravos domésticos. As mulheres tinham mais chances de obter alforria do que os homens; e parece que mulatos e pardos conseguiam o “benefício” mais que os negros. Vale lembrar, por meio da literatura de Machado de Assis, que a alforria funcionava também como um elemento de pressão ideológica sobre o escravo que, com a possibilidade de ganhar liberdade, tendia a ter comportamento dócil, submisso, como maneira de captar benevolência. Tal trama complexa de possibilidades dá uma boa ideia de como era a relação entre negros, mulatos e brancos; entre escravos e donos, entre alforriados e livres naquele Rio de Janeiro de Machado de Assis.
O passado não reconhece o seu lugar; está sempre no presente. É conservado por ele mesmo e nos segue por toda a vida. E é fundamental não esquecer: de todas as desgraças que se abateram em cima deste país, a mais grave são esses trezentos anos de escravidão. Pela Casa Grande, o capataz; pela Senzala, apenas resignação!
Paulo Augusto de Podestá Botelho é Professor e escritor.
Site https//paulobotelhoadm.com.br